Uma Batalha Após a Outra (2025) - Crítica
Viver nos tempos atuais é como estar mergulhado num estágio que precede o caos de modo interminável. Não em vão que os índices de depressão e ansiedade batem recordes. Mas também aumentam dados curiosos; de conservadorismo à regresso às ingrejas. Viver na geração atual é ter o desconforto e insegurança do básico, como adquirir a casa própria e um carro, algo que parece tão distante sem se fazer um sacrifício descomunal. O ritmo contemporâneo pareçe ser feito para anestesiar e amordaçar qualquer tentativa de revolução, as confidencializando numa rebeldia inocente e patética de sofá e redes sociais. Tudo para conforto das elites, qual fazem parte, obviamente, os donos das Big Techs. É como uma rodinha de hamster. Nos manter entretidos em círculos sem perceber a gaiola que nos cerca.
Bem, Paul Thomas Anderson não é dessa geração, e felizmente, tampouco alguém acomodado ao sofá. Mesmo que sua filmografia pouco tenha focado no tempo presente de sua produção, as temáticas frequentemente fazem comentários e alusões políticas sobre a influência ou origem do ethos americano moderno, seja em sua bruta e seminal introducão ao empresário self-made de There`ll Be Blood, ao culto fanático e o controle de massas de The Master, passando por uma certa nostalgia em crise de Boogie Nights e Lirocice Pizza, Paul Thomas Anderson, dos cineastas mais rebuscados, elegantes e inteligentes de sua época, sempre conseguiu usar uma caneta e uma câmera para dissolver suas ideias em tela, por mais que nem sempre das formas mais evidentes e chamativas, o que dificulta seu reconhecimento popular.
Há muito dessa capacidade intertextual sutil em seu novo projeto, Uma Batalha Após a Outra, mas dessa vez, pouco poderia ser feito para deixar o conteúdo da obra mais expressivo e explïcito, a começar pelo seu título. Seguindo um grupo de revolucionários que intercalam em atividades como invadir uma prisão de imigrantes e escritórios de políticos de extrema-direita, o diretor mostra, inicialmente, a revolução como excitante. Tanto que os personagens que definirão o esqueleto do filme iniciam uma relação aí, com o expert em explosões, o Bob de DiCaprio, com a intensa e fervorosa Perfídia de Teyana Taylor, cuja empolgação pelos atos afrontos parece incendiar uma paixão que faria pouco sentido fora isso - o que a própria mãe da garota comenta a Bob.
Mas, naturalmente, por mais digna e emocionante que seja, um ato agressivo contra instituições do sistema - governamentais e militares - sempre serão um ato de isolada compaixão e risco, já que todo o aparato midiático está com aqueles no poder; e, como diz o ditado, "A revolução não será televisionada". Obviamente as coisas dão errado em certo ponto, numa partida que sempre será solitária e injusta. Resta a Bob, já exaurido dos anos de luta, criar em exílio e completa paranoia o fruto do casal, que cresce para se tornar Willa (Chase Infiniti), que mesmo sem ter conhecido a mãe, carrega o olhar ígneo e a postura afrontosa da mesma.
Após um breve intervalo e pulo temporal de 16 anos, que situa como estão os membros do grupo após todo esse tempo, basicamente o único qual temos algum momento para contemplação e calma na narrativa, ela é logo invadida por um senso de urgência perene e angustiante, entremeado por uma comicidade paródica que conduz toda a trama como uma dinamite prestes a explodir, sensação corroborada pela trilha de Jonny Greenwood, com acordes inquietantes de um piano onipresente que nos castiga com ansiedade alarmante. Parece não haver tempo para nada, somente o desastre.
Aqui, a atuação de DiCaprio e seu personagem são tão necessários para dar o tom do longa, mesmo passando longe de ser uma figura confiável e glamourosa, muito pelo contrário. Com o cérebro frito após passar 16 anos em paranoia e nostalgia regados a álcool e drogas, quando a emergência volta a bater sua rotina e urge o personagem a sair de sua redoma para salvar a si e sua filha, Paul Thomas Anderson vai e costura sua obra-prima num espírito tão zombeteiro e absurdo que poderiam até soar irrealista não fossem os contornos que o mundo tomou nos últimos anos.
O cineasta disse ter trabalhado no roteiro por 20 anos, o implementando com todas suas referências e experiências. Paul faz uma adaptação do livro Vineland, de Thomas Pynchon, lançado em 1990 e que fazia uma paródia americana focada no governo Reagan. Mesmo sendo bem livre em sua composição da obra, Thomas mantém o tom de absurdo cômico e revolucionário do mesmo, o que, tristemente, atesta também o quão pouco o cenário mudou em todas essas décadas - assim como nas décadas que passam durante o próprio filme, que parecem, de fato, nada em teor político e social. Até o rosto principal do inimigo, literalmente, é o mesmo, num jogo de fantoches assustadoramente hilário para representar as dinâmicas de nossa sociedade.
Por isso, acaba sendo também o filme mais mundial e abrangente do genial diretor. Seu sucesso é, é claro, um atestado de como seus trabalhos sempre conversaram com um público muito além do americano. Mas Nunca fizera tanto sentido, numa escala global, com o cenário político que vem se alastrando pelo Ocidente em meio ao desespero Trumpiano para manter poder e status num panorama que desafia e questiona a autoridade americana.
Exaustivo e cansativo é para o personagens, indo de lá para cá, especialmente seu protagonista, numa eterna luta também contra ele mesmo e o impulso de desistir, sem conseguir mudar nada se pensarmos bem, que nos faz debater a necessidade e utilidade da revolta. Qual a resposta de Thomas? A resposta de um pai, assustado por passar esse mundo aos filhos, mas também orgulhoso por ter feito, e ainda poder fazer, sua parte, e esperançoso de perceber a competência da prole para, quem sabe, ter mais sucesso no futuro. Com a certeza, entretanto, de que as batalhas nunca cessarão, pois o verme do fascismo está sempre à espreita em qualquer pequena crise para manter o status-quo de ordem e poder.

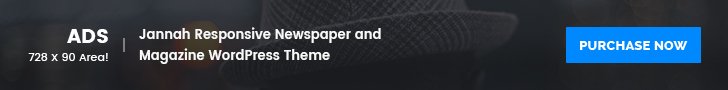


















Nenhum comentário